Há eventos – habitualmente, os trágicos – que nos recordam o quanto as fronteiras que nos delimitam administrativamente a organização do espaço não são mais que invenções humanas para os quais elementos como o fumo, o fogo, a água, os bichos ou os vírus se marimbam indiferentemente.
O fumo que todos respirámos na primeira semana da quinzena que passou teve essa violência de nos implicar a todos nos acontecimentos, desligando-os da fronteira do ecrã televisivo e impregnando-os no nosso corpo, nos nossos pulmões, no cheiro das nossas roupas e na cinza caída aos nossos pés.
A verdade é que a recorrência destas coisas tem, no debate público, um efeito anestesiante – torna-se rotina, parte da agenda mediática do verão e de conversas de circunstância entre finos à beira mar. A não ser quando bate mais perto da porta, como é normal e humano. Mais que moralizar, importa usar essa atenção para tentar iluminar algum futuro.
Não se pode acusar os media de falta de cobertura, mas falar sobre o acontecimento, sobretudo no sentido em que os media mais massificados (as televisões, sobretudo) o fazem, dificilmente se pode considerar útil ou informativo. A exploração emocional de uma desgraça pode servir para produzir alguma catarse coletiva, mas a catarse não pode significar o “descartar-se” da missão de informar e contribuir para que uma comunidade política informada consiga produzir resultados melhores no futuro.
Nesse sentido, não deve deixar de nos provocar uma generosa perplexidade percebermos quanto um dos países mais assolados pelo fogo na Europa parece cultivar um nível assombroso de desconhecimento e desinformação sobre todos os temas ligados à floresta, aos incêndios florestais e e ao interior do país.
Talvez o facto de, desta vez, os sinais do fogo terem chegado ao litoral nos leve a fazer desta tragédia tão portuguesa menos um espectáculo e a nos envolvermos no problema com maior empenho. Às vezes as coisas têm mesmo de nos bater à porta.

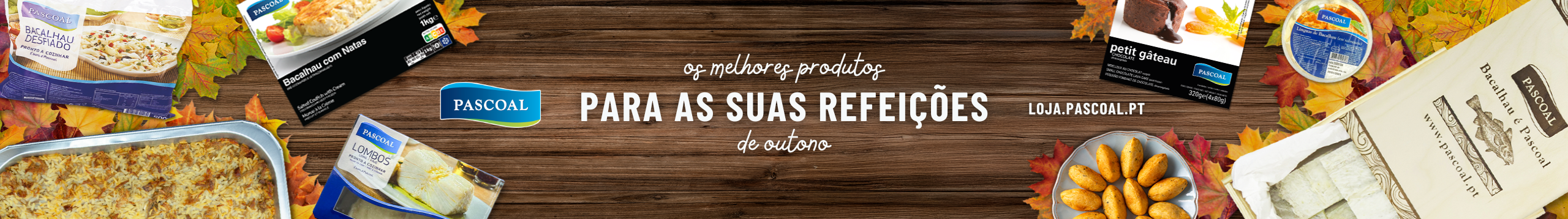

![[Opinião] Andorinha ou andorinhão?](https://oilhavense.com/wp-content/uploads/2025/05/carolina-damas-andorinha-header-218x150.png)
![[Opinião] Um Novo Capítulo](https://oilhavense.com/wp-content/uploads/2025/03/xylocopa-header-218x150.png)






