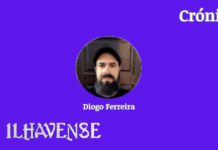David Calão
Estava à toa na avenida e ouvi um barulho trovejante que rapidamente percebi ser o antigo quartel dos bombeiros a ser mordido por uma espécie de dinossauro de ferro que deixava cair as migalhas pesadamente. A uma distância de segurança, umas dezenas de curiosos observavam o espectáculo de destruição, o Godzilla metálico investia contra o local cuja sirene tantas vezes me acordou do sono. Previsivelmente, pouco tempo faltou para gracejar, perante o cenário meio surrealista, que as pessoas só se juntam para ver as coisas ruir.
Deixando a demolição nas costas, continuei a caminhar, ouvindo Chico Buarque, que bem mereceu o prémio Camões 2019. Construção é uma das composições mais brilhantes da história da música e nunca é demasiado o relevo que se dá a Chico Buarque neste mundo em deprimente processo de bolsonarização.
Mas, em criança, a canção com que Chico me conquistou irremediavelmente foi A Banda. Num estilo ainda muito bossa, com uma voz ainda muito João Gilberto, a canção inventa um imaginário cenário em que toda a comunidade pára para ver a banda passar, largando as suas tormentas. A bossa transforma-se em marcha, com tons de fanfarra, e culmina em “minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor”.
Ao contrário da aparente inocência alegre, A Banda do Chico Buarque é de uma certa melancolia. Descreve uma primavera que, como todas, a seu tempo termina – «tristeza não tem fim, felicidade sim», escrevera Vinicius uns anos antes. Mas as primaveras são fundamentais, ainda que possam ser precárias, porque provam a sua possibilidade.
Então, segui caminho a pensar nessa possibilidade. Parei no Café Jardim, pedi um sumo de laranja e sentei-me a observar. Daqui a umas semanas, será outro o som que habitará este jardim. O Festival Rádio Faneca é, desde 2012, a coisa mais parecida com a Banda, do Chico Buarque, que encontrei. Enquanto fenómeno social e cultural, é uma maré que inunda o centro da nossa cidade de energia e criatividade durante um fim-de-semana e que prova que existe vida neste lugar.
Tendo-se transformado ao longo das últimas edições, nessa metamorfose ambulante o festival tem transportado consigo uma ideia para a cidade e para a cultura da cidade que está presente em tudo o que acontece no que faz parte da programação e até, arrisco-me a dizer, do que é extraprogramação – nos pequenos hábitos e rituais que as pessoas já vêm sacralizando ao longo de sete anos de vida do festival.
O Rádio Faneca, nas suas várias ramificações – a radiofónica, a musical, a comunitária – propõe uma cidade cuja circunstância periférica aos grandes centros urbanos não faz dela menos cosmopolita. Que, se por um lado não tem de se desfazer dos seus elementos mais identitários e, de alguma forma, folclóricos para ser uma cidade do século XXI, também não tem de cristalizar a sua identidade nesse imaginário, podendo, aliás, actualizá-lo e reinventá-lo.
Terminei o meu sumo de laranja, paguei, e segui caminho ouvindo o Conan Osíris a ecoar por toda a cidade, cantando que “tu sabes que a saudade anda aos beijos com a morte”. O ruído da demolição foi diminuindo e presumo que o ajuntamento se tenha desmobilizado, entretanto.
Nem só para ver as coisas ruir há mobilização, e o segundo fim-de-semana de Junho será disso exemplo. Num mundo em que o isolamento e os mitos nostálgicos nos colocam de novo perante o espectro do fascismo, daremos o exemplo de mobilização em torno de uma cidade que é actual, que vive, respira e que fala de e com um mundo que é o de hoje, e que o faz sem complexos com a sua simbologia e com as suas linguagens. Sem saudosismos mas com muito espírito ilhavense.